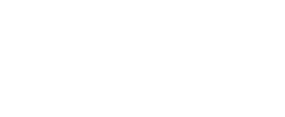Juro que esta coluna é para falar de tarta de queso, chegaremos lá com alguma generosa paciência do leitor, mas antes permitam-me caminhar até lá ao meu modo. Em minha última ida a Madri, em maio do ano passado, peguei dias de sol escaldante. Talvez um final de primavera atípico, mas em várias tardes chegamos mesmo a experimentar temperaturas na casa dos 38 graus. Eu amo o calor intenso, mas neste caso preferiria estar em Mallorca. As altas temperaturas, todavia, não foram obstáculo para que eu passasse longos dias desfilando a pé pela cidade, palmilhando suas ruas sob o sol inclemente. A alternativa seria a chuva, então vamos de sol mesmo, muito obrigado. Madrid é belíssima de ser desfrutada sob o sol. Correr ouvindo música por entre os jardins e lagos do parque El Retiro em um dia de céu azul é uma delícia.
Era uma destas tardes. Eu já havia corrido no El Retiro pela manhã, voltado ao hotel para tomar banho e um café tardio, e agora estava novamente sob o calor a caminho do Museu do Prado xingando-me um pouco pelos exageros matinais, a pele começando a reclamar em atrito e total inimizade com a camiseta. Desnecessário dizer que o Prado é um mundo que inevitavelmente demanda inúmeras visitas para ser apreciado em sua plenitude. Como tenho o resto da vida, não tenho pressa. A cada vez que vou, delicio-me com poucas obras, absorvendo-as em cada detalhe que me encanta. Desta vez foi um Ticiano. A primeira vez que vi um Ticiano (conscientemente, pelo menos) terá sido na National Gallery de Londres, séculos atrás, e isso marcou minha vida. Costumo dizer (e já o disse aqui) que não há azul no mundo como os azuis de Ticiano. De sorte que quando entro pela primeira vez numa sala desconhecida de qualquer museu, e ali há um Ticiano, meu pescoço vira-se automaticamente e instintivamente, por alguma espécie de magnetismo desconhecido, e pelo azul eu sei que se trata de um Ticiano. A obra em questão desta vez era Vênus e Adônis, que o mestre veneziano pintou para seu amigo e mecenas, o rei Filipe II de Espanha, na segunda metade do século XVI.
A cena é inspirada nas Metamorfoses, de Ovídio. Vênus, a deusa do amor, encontra-se apaixonada pelo mortal Adônis, musculoso jovem caçador de beleza inigualável, que não cede de maneira alguma a seus encantos. Adônis encontra-se na iminência de sair para a caça, seus cães já estão afoitos e babando à sua espera; Vênus, nua, de costas para o observador, em atitude dramática, tenta de todas as maneiras segurar o amado pelo tronco, para que ele não se vá; agarra-o com força, e o jovem tenta se soltar. Vemos uma atmosfera densa no horizonte, o rico cromatismo característico do mestre, os azuis querendo condensar-se em cinza e tormenta, sfumatos belíssimos; prenunciamos algo de ruim no horizonte e na cena. Sabemos pela história que Adônis vai, sim, desvencilhar-se dos braços da deusa e morrer nesta caçada; terá o corpo destruído por um javali. O quadro é de uma fase peculiar de Ticiano marcada por uma reflexão quase amarga da nossa fragilidade à mercê do destino, das intempéries, das circunstâncias.
Parado ali em frente ao quadro e conhecendo a história, belamente narrada não apenas por Ovídio, mas também por Shakespeare, fico perguntando a mim mesmo o que terá sentido Vênus ao ver morto o amado. Vem-me à cabeça um lindo e dramático verso de Ingeborg Bachmann: “Não foste tu que perdi, mas o mundo”. Pondero em seguida que o verso seria descabido neste contexto, porque no fundo Vênus jamais possuíra Adônis de verdade; era um amor não correspondido. Os longos poemas de Ovídio e Shakespeare deixam isso bem claro. Em Shakespeare lemos uma cena emblemática, o primeiro assalto de Vênus a Adônis, quando ela literalmente arranca o jovem de seu cavalo e o segura com força ao solo. “Para trás ela o empurrou, como ela mesma quisera ser empurrada/ E o dominou em força, ainda que não em luxúria”. Fica claro aqui que, a despeito de sua força superior como deusa, Vênus jamais poderá governar o desejo do jovem; ele não corresponderá a seu afeto, não importa o quão ardentemente ela tente seduzi-lo. Suprema ironia, suprema tragédia: a deusa do amor não possui poderes ilimitados nesse terreno. Nas palavras do bardo inglês: “Ela é o Amor, ela ama, e ainda assim não é amada”. Virando-me de costas para o quadro, prestes a ir embora, concluo que o verso de Bachmann, faz, sim, sentido. O amor, correspondido ou não, não deixa de ser amor; e, portanto, a perda será sempre sentida. Penso que Vênus terá bem perdido seu chão e seu mundo com a morte de Adônis.
Lá fora a temperatura havia amenizado um pouco com o cair da tarde. Precisava com desespero comprar um perfume favorito que acabara e pus-me a andar em direção à única perfumaria que o vende em Madrid, pois a marca é quase impossível de achar fora da França. Felizmente o perfume estava disponível, e com dois frascos devidamente garantidos em mãos, achei que era hora de uma pausa para tomar um café e contemplar o final da tarde, as pessoas voltando apressadas do trabalho na hora do rush (como é bom estar de férias). E assim chegamos à tarta de queso.
Como desde criança e amo de paixão. Diferentemente da cheesecake americana, cuja massa é uniformemente densa, e da italiana (à base de ricota esfarelenta), a torta espanhola (basca, na verdade) é um paraíso de cremosidade caudalosa, que escorre em uma poça de prazer, casquinha dourada e caramelizada. Não possui base de biscoito, não é tão doce por não levar muito açúcar, não é assada em banho-maria e normalmente não leva calda (para que uma calda, se podemos consumir com um magnífico vinho doce geladinho?). O segredo da torta de queijo basca é sua massa líquida, assada em temperatura mais alta, porém por menos tempo, a fim de garantir a crosta dourada e o interior cremoso.

Chego à La Bientirada de Quevedo, onde servem uma das minhas favoritas na cidade, e também uma das mais famosas de Madrid. Instalo-me sob o guarda-sol numa agradável mesa na calçada e peço a torta, na companhia de um vinho de sobremesa e água. A primeira garfada é uma coisa espetacular, há o caramelizado crocante da crosta, há a cremosidade da massa, o gosto perfeito do queijo. É um pequeno momento de sublime êxtase, e por um instante penso que o amor, as histórias de amor, os dramas, as lágrimas operísticas, as dramáticas mortes poéticas, os quadros colossais, tudo isso é nada, muito pequeno, irrisório, insignificante, perto deste prazer. Uma outra favorita é a do moderninho restaurante Fismuler, igualmente perfeita, mas com uma agradável peculiaridade: preparam-na com uma combinação de vários queijos de gosto forte, adicionando então à combinação uma potência de sabores verdadeiramente encantadores (esta, sim, quase obrigatória com vinho, para dar uma cortada no queijo marcante entre as garfadas).

Arremato tudo com um fabuloso expresso, pago a conta e ponho-me em meu caminho de volta para o hotel, o estômago muito realizado. Vou descansar um pouco. A noite será belíssima, ser solteiro não é a pior coisa do mundo. E estarei com meu perfume novo.